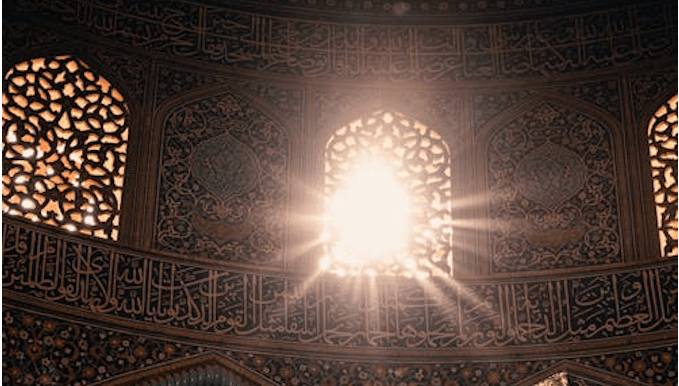
TARIQ ALI*
O que estamos testemunhando na Síria hoje é uma grande derrota, um mini 1967 para o mundo árabe
Ninguém, exceto alguns comparsas corruptos, derramará lágrimas com a partida do tirano. Mas não deve haver dúvidas de que aquilo que estamos testemunhando na Síria hoje é uma grande derrota, um mini 1967 para o mundo árabe. Enquanto escrevo, as forças terrestres israelenses entraram neste país maltratado. Ainda não há um acordo definitivo, mas algumas coisas estão claras.
Bashar al-Assad tornou-se um refugiado em Moscou. O seu aparato baathista fez um acordo com o líder da OTAN Oriental, Recep Tayyip Erdoğan (cujas brutalidades em Idlib avultam), oferecendo o país de bandeja. Os rebeldes concordaram que o primeiro-ministro de Bashar al-Assad, Mohammed Ghazi al-Jalali, deve continuar a supervisionar o Estado por enquanto. Será essa uma forma de “assadismo” sem Bashar al-Assad? Ou seja, um regime brutal mesmo que o país esteja prestes a se afastar geopoliticamente da Rússia e do que resta do “Eixo da Resistência”?
Tal como o Iraque e a Líbia, onde os EUA têm possessões petrolíferas, a Síria agora se tornará uma colônia compartilhada americana e turca. A política imperial dos EUA, globalmente, consiste em dividir países quando eles não podem ser engolidos por inteiro.
O objetivo é remover toda soberania significativa para afirmar a sua hegemonia econômica e política. Isso pode ter começado “acidentalmente” na antiga Iugoslávia, mas desde então se tornou um padrão. Os satélites da União Europeia usam métodos semelhantes para garantir que nações menores (Geórgia, Romênia) sejam mantidas sob controle. A democracia e os direitos humanos têm pouco a ver com isso. Trata-se de uma luta global para dominar o mundo.
Em 2003, depois que Bagdá caiu diante dos EUA, o exultante embaixador israelense em Washington parabenizou George W. Bush e o aconselhou a não parar por aí, mas a seguir para Damasco e Teerã. No entanto, a vitória dos EUA teve um efeito colateral não intencional, mas previsível: o Iraque se tornou um estado xiita remanescente, fortalecendo enormemente a posição do Irã na região. O desastre ocorrido nesse país, e posteriormente na Líbia, mostrou que Damasco deveria esperar por mais de uma década antes que recebesse a devida atenção imperial. Enquanto isso não acontecia, o apoio iraniano e russo a Assad impediu uma mudança rotineira de regime.
Agora, a expulsão de Bashar al-Assad criou um tipo diferente de vácuo – o qual, provavelmente, será preenchido pela Turquia da OTAN e pelos EUA por meio da “ex-al-Qaeda”, bem como por Israel. Ascenderá Hayat Tahrir al-Sham, uma reposição de Abu Mohammad al-Jolani; após a sua passagem por uma prisão dos EUA no Iraque, ele aparecerá agora, normalmente, como um lutador pela liberdade. A contribuição de Israel para que isso acontecesse foi enorme: destruiu parcialmente Beirute por meio de rodadas de bombardeios massivos; em adição, conseguiu enfraquecer e desativar o Hezbollah.
Na esteira desta vitória, é difícil imaginar que o Irã será deixado de lado. Embora o objetivo final tanto dos EUA quanto de Israel seja a mudança de regime, degradar e desarmar o país vem a ser a primeira prioridade. Este plano mais amplo para remodelar a região ajuda a explicar o apoio irrestrito dado por Washington e seus representantes europeus ao contínuo genocídio israelense na Palestina. Após mais de um ano de matança, o princípio kantiano de que as ações do Estado devem ser tais que possam se tornar uma lei universalmente respeitada parece uma piada de mau gosto.
Quem substituirá Bashar al-Assad? Antes de sua fuga, alguns relatos sugeriram que se o ditador fizesse uma reviravolta de 180 graus – rompendo com o Irã e a Rússia e restaurando boas relações com os EUA e Israel, como ele e seu pai fizeram antes – então os americanos poderiam se inclinar para mantê-lo. Agora é tarde demais, mas o aparato estatal que o abandonou declarou prontamente a sua disposição para colaborar com quem quer que seja. Recep Erdoğan fará o mesmo?
O Sultão dos Asnos certamente desejará que o seu próprio povo, criado em Idlib desde que eram crianças-soldados, esteja no comando; a Síria deve ficar sob o controle de Ancara. Se ele conseguir impor um regime fantoche turco, será outra versão do que aconteceu na Líbia. Mas é improvável que ele obtenha tudo como quer e de seu jeito. Recep Erdoğan é forte em demagogia, mas fraco em ações.
E, dada as circunstâncias, os EUA e Israel podem vetar um governo renovado da Al-Qaeda por razões que lhes são próprias. Eles o farão apesar de terem usado os jihadistas para lutar contra Assad. Independentemente disso, é improvável que o regime substituto abole a Mukhābarāt (polícia secreta), ilegalize a tortura ou ofereça um governo responsável.
Antes da Guerra dos Seis Dias, um dos componentes centrais do nacionalismo e da unidade árabe era o Partido Baath, que governava a Síria e tinha uma base forte no Iraque; o outro, mais poderoso, era o governo de Nasser no Egito. O baathismo sírio durante o período pré-Assad era relativamente esclarecido e radical. Quando conheci o primeiro-ministro Yusuf Zuayyin em Damasco, em 1967, ele explicou que a única maneira de seguir em frente era flanquear o nacionalismo conservador, tornando a Síria “a Cuba do Oriente Médio”.
No entanto, o ataque de Israel naquele ano levou à rápida destruição dos exércitos egípcio e sírio, o que abriu caminho para a morte do nacionalismo árabe nasserista. Yusuf Zuayyin foi derrubado e Hafez-al Assad foi impulsionado ao poder com apoio tácito dos EUA – algo muito parecido com o que ocorreu com Saddam Hussein no Iraque, a quem a CIA forneceu uma lista dos principais quadros do Partido Comunista Iraquiano. Os radicais baathistas em ambos os países foram descartados; o fundador do partido, Michel Aflaq, renunciou em desgosto quando viu para onde ele estava indo.
Essas novas ditaduras baathistas foram, no entanto, apoiadas por certas seções da população, desde que fornecessem uma rede de segurança básica. O Iraque sob Saddam e a Síria sob Assad do pai e do filho foram ditaduras brutais, mas sociais. O pai Hafez al-Assad veio da camada média do campesinato e aprovou várias reformas progressivas para garantir que sua classe fosse mantida feliz, reduzindo a carga tributária e abolindo a usura. Em 1970, a grande maioria das aldeias sírias tinha apenas luz natural; os camponeses acordavam e iam dormir com o sol. Algumas décadas depois, a construção da barragem do Eufrates permitiu a eletrificação de 95% delas, com energia fortemente subsidiada pelo Estado.
Foram essas políticas, e não apenas a repressão, que garantiram a estabilidade do regime. A maioria da população fez vista grossa à tortura e à prisão de cidadãos nas cidades. Bashar al-Assad e seu grupo acreditavam firmemente que o homem era pouco mais do que uma criatura econômica e que, se necessidades desse tipo fossem satisfeitas, então apenas uma pequena minoria se rebelaria: “uma ou duas centenas no máximo” – observou Assad certa vez – eram do tipo para os quais a prisão de Mezzeh havia sido originalmente planejada”).
A eventual revolta contra o jovem Bashar al-Assad em 2011 foi desencadeada por sua virada para o neoliberalismo e a exclusão do campesinato. Quando se calcificou em uma amarga guerra civil, uma opção teria sido um acordo de compromisso e um acordo de divisão de poder – mas os aparatchiks, que atualmente estão negociando com Recep Erdoğan – aconselharam-no a ser contra qualquer acordo desse tipo.
Durante uma das minhas visitas a Damasco, o intelectual palestino Faisal Darraj confidenciou que o agente do Mukhābarāt que lhe deu permissão para deixar o país para conferências no exterior sempre impôs uma condição: “Traga de volta o mais recente Baudrillard e Virilio”. É sempre bom ter torturadores educados, como o grande romancista árabe Abdelrahman Munif – um saudita de nascimento e intelectual líder do Partido Baath – poderia ter dito.
O romance de Abdelrahman Munif de 1975, Sharq al-Mutawassit (A leste do mediterrâneo), é um relato devastador de tortura e prisão política. O crítico literário egípcio Sabry Hafez descreveu esse livro dizendo que tratava de “poder e ambição excepcionais, aspirando a escrever a prisão política definitiva em todas as suas variações”. Quando falei com Abdelrahman Munif nos anos noventa, ele disse, com um olhar triste no rosto, que esses eram os temas que dominavam a literatura e a poesia árabes: um comentário trágico sobre o estado da nação árabe. Hoje, isso mostra poucos sinais de mudança. Mesmo que os rebeldes tenham libertado alguns dos prisioneiros de Bashar al-Assad, eles logo os substituirão pelos seus.
Os EUA e a maior parte da União Europeia passaram o último ano sustentando e defendendo com sucesso um genocídio em Gaza. Todos os estados clientes dos EUA na região permanecem intactos, enquanto três não clientes – Iraque, Líbia e Síria – foram decapitados. A queda deste último remove uma linha de suprimento crucial que liga várias facções antissionistas.
Do ponto de vista de estratégia geopolítica, é um triunfo para Washington e Israel. Isso deve ser reconhecido, mas o desespero não vale nada. Uma resistência eficaz se reconstituirá a depender do próximo confronto entre Israel e um Irã sitiado, que está envolvido em negociações subterrâneas diretas com os EUA e certos membros da comitiva de Donald Trump, ao mesmo tempo em que acelera o desenvolvimento de seus planos nucleares. A situação está repleta de perigos.
*Tariq Ali é jornalista, historiador e escritor. Autor, entre outros livros, de Confronto de fundamentalismos (Record). [https://amzn.to/3Q8qwYg]Tradução: Eleutério F. S. Prado.Publicado originalmente no blog Sidecar da New left review.

Nenhum comentário:
Postar um comentário
12