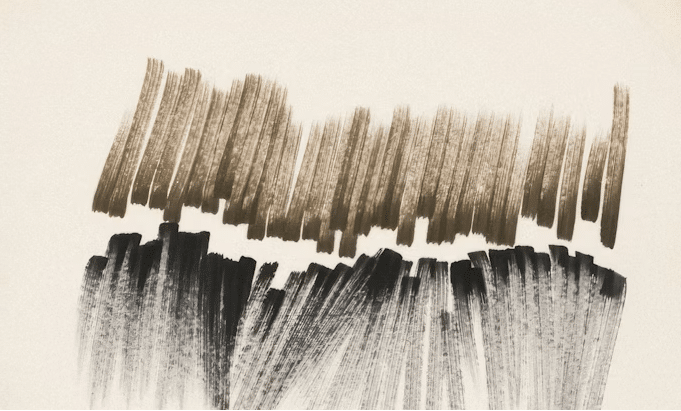
Imagem: Europeana
Por JOÃO DOS REIS SILVA JÚNIOR*
Pensar o Brasil implica atravessar a longa história de sua subordinação econômica, política e cognitiva. A dependência, na América Latina, não é desvio de rota, mas forma estrutural do capitalismo periférico. Desde o século XIX, o Estado brasileiro vem reproduzindo um padrão de modernização que se alimenta do arcaico e o transforma em instrumento de acumulação. Como mostrou Francisco de Oliveira (2003), o moderno não substitui o precário, dele se nutre e com ele se reproduz.
A teoria aqui desenvolvida propõe compreender a dependência como racionalidade de dominação. Ela combina exploração econômica, hierarquia epistêmica e subordinação institucional. O Estado brasileiro é o mediador dessa estrutura, pois converte o fundo público em espaço de reprodução da desigualdade e em instrumento de legitimação de interesses privados. O resultado é uma modernidade administrada pela carência, sustentada por um sistema que transforma a precariedade em método de governo.
A hipótese central afirma que o país vive sob uma “arquitetura da dependência”. Essa forma se manifesta na economia, nas instituições e no pensamento. É o ponto de fusão entre o material e o simbólico, entre a dependência e a colonialidade.
A dependência como forma histórica
Ruy Mauro Marini (1973) rompeu com o desenvolvimentismo ao demonstrar que a dependência é forma específica do capitalismo mundial. A superexploração do trabalho constitui sua base econômica: o salário reduzido abaixo do valor de reprodução da força de trabalho permite transferir excedente para o centro. Vânia Bambirra (1974) e Theotônio dos Santos (1978) ampliaram o conceito, mostrando que o subdesenvolvimento não é falha de governo, mas estrutura de poder.
A burguesia associada exerce papel decisivo nesse processo. Ela lucra com a inserção subordinada e se torna agente interna da dominação. A dependência é, assim, uma relação social completa, que articula o externo e o interno, o econômico e o político.
Durante as décadas de 1970 e 1980, o ciclo de endividamento, a financeirização e as reformas neoliberais consolidaram nova etapa dessa forma. O Estado passou de mediador nacional a gestor da austeridade. O pagamento da dívida substituiu o investimento social. O fundo público tornou-se o canal de transferência permanente ao capital financeiro. A dependência deixou de ser apenas comercial e industrial, convertendo-se em financeira e institucional (Boron, 2002).
Francisco de Oliveira (1972) introduziu um deslocamento fundamental: a dependência não é apenas relação econômica, mas também racionalidade ideológica. A chamada “razão dualista” é a forma de pensamento que legitima a desigualdade ao separar o moderno do arcaico, apresentando o primeiro como solução do segundo. Essa separação é ilusória, pois ambos compõem um mesmo sistema de dominação. O atraso é funcional ao progresso.
Ao desmontar essa ideologia, Francisco de Oliveira revelou que o Estado brasileiro é o organizador dessa dualidade permanente. Ele administra a coexistência entre modernização tecnológica e precarização social. A racionalidade estatal é, portanto, expressão de uma consciência colonial internalizada. O Estado nacional repete a hierarquia do centro sobre a periferia dentro de suas próprias fronteiras.
Essa crítica rompeu com a visão evolucionista e abriu caminho para novas leituras. A dependência deixa de ser episódio econômico e passa a ser estrutura de pensamento. É nesse ponto que a obra de Oliveira antecipa a discussão posterior sobre colonialidade.
Colonialidade e epistemicídio
Aníbal Quijano (2000) mostrou que o colonialismo político se transforma, após a independência, em colonialidade do poder. A exploração econômica é acompanhada por uma hierarquia racial e cognitiva que define quais saberes podem ser reconhecidos como válidos. Essa lógica sobrevive no interior das universidades, nas políticas públicas e nas formas de conhecimento importadas.
Boaventura de Sousa Santos (2006) denominou esse processo de epistemicídio: a destruição das epistemes subalternas. O Estado brasileiro participa dessa operação ao adotar padrões de avaliação, produtividade e mérito impostos por centros estrangeiros. O que Francisco de Oliveira identificara como razão dualista reaparece agora como colonialidade da razão moderna.
Enrique Dussel (1994) acrescenta que a modernidade europeia só pôde afirmar-se negando a periferia. A América Latina é a exterioridade constitutiva da modernidade. O pensamento brasileiro, ao tentar imitar o europeu, repete esse gesto de negação. Desse modo, a dependência é também um modo de ver o mundo. Ela se reproduz nas instituições porque está inscrita nas formas de pensamento que as legitimam.
A economia da dependência e a ideologia da modernização convergem no Estado. Desde o Império, o Estado brasileiro desempenha a função de administrar a desigualdade, convertendo-a em política. Raymundo Faoro (2001) mostrou que o patrimonialismo é o fio contínuo dessa história: o público se confunde com o privado, e o Estado serve de intermediário entre o capital externo e as elites locais.
Com a financeirização, esse padrão se aperfeiçoou. O fundo público passou a sustentar tanto a acumulação privada quanto a legitimação do Estado como gestor da escassez. Francisco de Oliveira (2003) analisou esse processo em O ornitorrinco: o Estado moderno no Brasil imita formas institucionais avançadas, mas mantém conteúdo oligárquico. A técnica substitui a política, a contabilidade substitui a justiça.
Essa é a essência da arquitetura da dependência. O Estado não apenas reproduz a subordinação material, mas também a traduz em linguagem moral: austeridade, eficiência, mérito. O discurso técnico disfarça a continuidade do poder.
Universidade e saber colonizado
A universidade pública brasileira é um espelho dessa arquitetura. Desde sua origem, ela combina excelência seletiva e precariedade estrutural. O ensino superior foi construído como símbolo de modernidade, mas sustentado por trabalho docente instável e por desigualdade de acesso. A racionalidade que a rege é contábil e externa.
Os rankings, avaliações e métricas internacionais reforçam a dependência epistêmica. A pesquisa se orienta por agendas globais, e não por necessidades nacionais. Como observa Boaventura de Sousa Santos (2019), o conhecimento converteu-se em mercadoria e o dado substituiu o conceito. A ciência periférica passa a medir-se pelo olhar do centro.
Essa lógica transforma o fundo público universitário em instrumento de financeirização simbólica. O prestígio substitui a reflexão, e o conhecimento é avaliado por indicadores de desempenho. A universidade perde sua função crítica e se torna engrenagem da racionalidade dependente.
A convergência entre a teoria da dependência, a crítica de Francisco de Oliveira e o pensamento decolonial permite compreender o Estado brasileiro como estrutura total de subordinação. A dependência fornece a base econômica; a razão dualista, a ideologia legitimadora; a colonialidade, o elemento cognitivo que torna a dominação moralmente aceitável.
A arquitetura da dependência é, portanto, a fusão dessas dimensões. Ela se mantém porque o moderno necessita do arcaico e porque a elite nacional se reconhece no espelho europeu. O país vive em permanente tradução de modelos, sem projeto próprio de soberania.
Essa estrutura, contudo, não é invencível. Em cada crise econômica e política reaparecem brechas de consciência histórica. As lutas sociais, a produção cultural, a persistência de saberes populares e indígenas demonstram que há sempre vida além da racionalidade dominante. A dependência não é destino, mas forma histórica. E toda forma histórica pode ser desfeita.
A leitura de Marini, Oliveira, Quijano, Dussel e Boaventura de Sousa Santos revela que o Brasil não sofre de insuficiência moderna, mas de excesso de racionalidade dependente. A exploração, a desigualdade e o epistemicídio são partes de uma mesma engrenagem. O Estado administra a subordinação como se fosse normalidade, e as instituições, em vez de transformá-la, a reiteram.
Compreender essa arquitetura da dependência é condição para reconstruir o sentido da vida pública. O desafio não é alcançar a modernidade, mas libertar-se dela enquanto forma de dominação. O pensamento crítico latino-americano mostrou que a emancipação começa pela consciência do lugar que ocupamos na história. Pensar o Brasil é descolonizar o próprio ato de pensar.
*João dos Reis Silva Júnior é professor titular do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Autor, entre outros livros, de Educação, sociedade de classes e reformas universitárias (Autores Associados) [https://amzn.to/4fLXTKP].

Comentários
Postar um comentário
12