
Escritores frequentemente tentam dourar a pílula de tempos sombrios ou dignificar seus líderes falhos com analogias literárias rebuscadas — notavelmente, a América como a Nova Jerusalém; Lincoln como Moisés guiando seu povo pelo deserto da Guerra Civil; a Casa Branca de Kennedy como uma encarnação do "Camelot" do Rei Arthur; ou Lyndon Johnson vivendo seus últimos anos como um Rei Lear moderno, abandonado por seus filhos ingratos nos pântanos do sul do Texas.
Mas o que faremos com Donald Trump? Sua vaidade, sua vulgaridade e sua busca incessante por dinheiro e minerais em todos os cantos do globo não transformariam qualquer analogia literária em clichês sem graça? Como o showman P.T. Barnum, Trump é um americano original, cujas verdadeiras metáforas só podem ser encontradas em histórias em quadrinhos (a única e verdadeira forma de arte americana), não na literatura. Como Ariel Dorfman nos lembrou certa vez em Como Ler o Pato Donald, aquele guia clássico sobre o imperialismo cultural estadunidense na América Latina, sempre houve mais em uma história em quadrinhos da Disney do que piadas.
Para entender a América de Trump, precisamos de um guia em quadrinhos próprio para suas desventuras globais, que poderia se chamar algo como "Como Ler o Tio Patinhas". Afinal, caso você nunca tenha tido o prazer de conhecê-lo, o Tio Patinhas era o bilionário predador dos quadrinhos da Disney, incrivelmente popular entre os adolescentes durante a Guerra Fria nos Estados Unidos. Naquela época em que as corporações americanas percorriam a economia global extraindo lucros onde bem entendessem, o Tio Patinhas dava uma cara amigável ao imperialismo americano, fazendo com que intervenções secretas e exploração comercial parecessem benignas, até mesmo cômicas.
De 1952 a 1988, período que coincidiu quase precisamente com a Guerra Fria, o criador da banda desenhada, o ilustrador Carl Barks, encheu as bancas de revistas do país com mais de 220 edições que celebravam os planos do Tio Patinhas para acumular cada vez mais bilhões, enviando o Pato Donald e seus sobrinhos trigêmeos (Huguinho, Zezinho e Luisinho) para vasculhar o mundo em busca de riquezas — pedras preciosas, minerais, petróleo e tesouros perdidos. Nenhum lugar no planeta era remoto demais, nem mesmo o Ártico ou a Amazônia, e nenhum povo era pobre ou obscuro demais, nem mesmo hondurenhos e tibetanos, para escapar de suas garras avarentas. E, no entanto, naquele mundo inocente das bandas desenhadas, cada aventura, por mais intrincada que fosse a trama, sempre terminava com uma risada discreta para aqueles patinhos heróis e os diversos povos que encontravam em suas viagens pelo mundo.
Vamos revisitar algumas das minhas histórias em quadrinhos favoritas da minha infância durante a Guerra Fria, começando com a história de 1954, “As Sete Cidades de Cibola”. Os primeiros quadrinhos mostram um mordomo banhando o pato bilionário com moedas enquanto ele nada em seu Cofre de Dinheiro, que tem “três acres cúbicos” de dinheiro vivo. A princípio, Tio Patinhas parece satisfeito, vangloriando-se de ganhar dinheiro com “praticamente todos os negócios que existem na Terra” (de “poços de petróleo, ferrovias, minas de ouro, fazendas, fábricas”).
Subitamente, porém, entristecido ao perceber que esgotou todas as possibilidades de lucro em território nacional, Tio Patinhas decide levar seu sobrinho Donald e os trigêmeos para as terras desérticas na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Lá, eles encontram um Eldorado perdido, uma cidade imponente de vários andares com ruas pavimentadas em ouro e uma cisterna repleta de opalas e safiras. Mas a cautela se impõe quando Huguinho, Zezinho e Luisinho descobrem que toda a estrutura está perigosamente equilibrada sobre um pilar de pedra frágil. Então, no momento em que quase alcançam o tesouro, os patinhos são privados dele pelos recorrentes inimigos de Tio Patinhas, os cômicos e criminosos Irmãos Metralha, que invadem a cidade e roubam o ídolo cravejado de joias, acionando um mecanismo oculto que fratura o pilar. Enquanto as lendárias cidades desmoronam em um monte de escombros, nossos heróis patinhos escapam ilesos, prontos para sua próxima aventura.
O primeiro quadrinho de uma história em quadrinhos de 1956, "O Segredo de Hondorica", mostra o Tio Patinhas apontando para um mapa do Caribe enquanto envia o Pato Donald e seus três sobrinhos para o meio da selva tropical perto da Venezuela — sim, que triste coincidência quase sete décadas depois — para recuperar suas escrituras perdidas dos ricos poços de petróleo da região. Depois de atravessar montanhas íngremes e riachos infestados de crocodilos, os Patos se deparam com um templo maia repleto de "selvagens" armados com lanças, dispostos ao redor de seu ídolo. Traduzindo as "instruções pictóricas" nas paredes do templo com a ajuda de seu prático "Guia Enciclopédico dos Escoteiros Mirins", os sobrinhos enganam os nativos com encantamentos em sua própria língua e escapam com a coroa de ouro do ídolo.
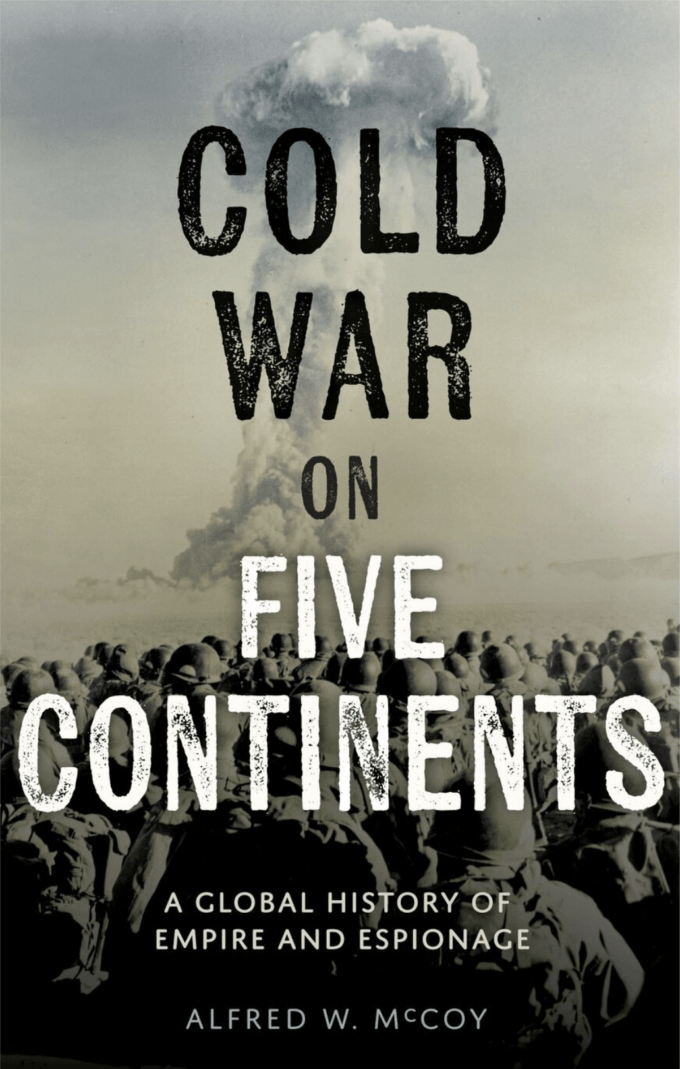
De volta à realidade da antiga Guerra Fria.
Infelizmente, minha infância inocente já se foi. O mundo não é mais cenário para aventuras de histórias em quadrinhos, e heróis imaginários não saltam de um quadro para o outro rumo a finais divertidos. No mundo real de 2026, já estamos imersos em uma “nova Guerra Fria” contra potências nucleares, e a política externa cômica do presidente Donald J. Trump está nos arrastando para uma derrota desastrosa.
Primeiramente, voltemos à realidade, fazendo um balanço do mundo em que vivemos ao longo dos anos e revisando como chegamos até aqui. Durante a verdadeira Guerra Fria, o conflito global que durou de 1947 a 1991 (quando a União Soviética entrou em colapso), aquele que descrevo em meu novo livro, Guerra Fria em Cinco Continentes, a estratégia geopolítica de Washington era brilhantemente implacável em sua concepção básica. Após lutarem por quatro anos em um conflito global bem diferente, a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de derrotar as Potências do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) entrincheiradas em ambas as extremidades da Eurásia, os líderes americanos da geração do General (e futuro presidente) Dwight D. Eisenhower sabiam instintivamente que o controle geopolítico sobre aquele vasto continente era, de fato, a chave para o poder global.
Guiados por esse princípio estratégico fundamental (que, na verdade, se manteve válido durante os últimos mil anos), os primeiros líderes da Guerra Fria em Washington trabalharam arduamente para "conter" o bloco comunista sino-soviético atrás de uma "Cortina de Ferro" que se estendia por 8.000 quilômetros ao redor da Eurásia. Com as forças armadas da OTAN protegendo a fronteira ocidental do continente e cinco pactos militares bilaterais abrangendo o litoral do Pacífico, do Japão à Austrália, formando sua fronteira oriental, Washington encurralou as superpotências comunistas. Essa estratégia permitiu que os EUA transformassem o resto do planeta em seu próprio "mundo livre". Em troca do livre acesso aos mercados e minerais dos países em grande parte desse mundo livre, os EUA distribuíram alguns dólares em ajuda ao desenvolvimento para as nações emergentes da Ásia, África e América Latina, o que frequentemente servia para engordar as contas bancárias de seus ditadores nominalmente "democráticos".
Após duas décadas confinadas à Eurásia, Pequim e Moscou tentaram romper seu isolamento geopolítico armando aliados para uma guerra revolucionária nos campos de batalha da Guerra Fria, que se estendiam do Vietnã do Sul, passando pelo Oriente Médio e pelo sul da África, até a América Central.
Para contrariar essa estratégia e empurrar essas potências comunistas de volta para trás da Cortina de Ferro, os EUA às vezes enviavam suas próprias tropas, seja com sucesso para a República Dominicana em 1965, seja desastrosamente para o Vietnã do Sul de 1965 a 1973. Mas, na maioria das vezes, Washington enviava agentes individuais da CIA, armados com total impunidade, para fazer o que quisessem — e eu digo o que quiserem mesmo — para frustrar as estratégias de Moscou e Pequim e assegurar o controle de territórios disputados. Geralmente desajustados, até mesmo excêntricos em casa, esses atores históricos surpreendentemente significativos, que passei a chamar de “homens no local”, muitas vezes se mostraram bastante bem-sucedidos no exterior. Usando os instrumentos mais cruéis do arsenal da política externa moderna — assassinatos, golpes de Estado, tropas substitutas, tortura e guerra psicológica — esses agentes secretos lutaram pelo controle de capitais estrangeiras tão diversas quanto Kinshasa, Luanda, Saigon, Santiago, San Salvador, Tegucigalpa e Vientiane. E então, com a União Soviética significativamente "contida" geopoliticamente dentro de suas fronteiras, Washington poderia simplesmente ficar de braços cruzados e esperar que Moscou cometesse um erro estratégico.
Esse erro ocorreu em 1979, em uma daquelas clássicas aventuras militares desastrosas que frequentemente aceleram a decadência de impérios. Quando Moscou enviou 100 mil soldados para ocupar o Afeganistão, Washington enviou apenas um agente da CIA, Howard Hart, para derrotar a ocupação. Agindo como o "homem de Washington no local", ele usou os milhões de dólares da agência para formar um exército guerrilheiro de 250 mil combatentes afegãos. Quando o Exército Vermelho, exausto e desmoralizado, deixou o Afeganistão uma década depois, os estados satélites de Moscou no Leste Europeu estavam em erupção com protestos anticomunistas em massa. Com o Exército Vermelho geralmente incapaz ou relutante em intervir, o bloco soviético se desintegrou com a dissolução da União Soviética, encerrando a Guerra Fria com uma vitória incontestável dos EUA.
Rumo a uma Nova Guerra Fria
Se a estratégia de Washington para conduzir a Guerra Fria foi um exercício bem-sucedido de geopolítica, seu uso do poder “unipolar” nas décadas seguintes foi, como também argumento em Guerra Fria em Cinco Continentes, muito menos eficaz. Após o colapso da União Soviética em 1991, Washington se ergueu sobre o globo como um titã da lenda grega — a única superpotência na Terra, pelo menos teoricamente capaz de remodelar o mundo a seu bel-prazer. Convencidos de que “ o fim da história ” faria de sua democracia de livre mercado o futuro de toda a humanidade, os líderes americanos, “ embriagados pelo poder ”, avançaram com planos abrangentes para uma nova ordem mundial, baseada em uma economia globalizada que atendia a seus interesses de curto prazo, mas que teria consequências deletérias a longo prazo para sua hegemonia global.
Apenas uma década após o fim da Guerra Fria, Washington começou a enfrentar sérios desafios estratégicos em todo o continente eurasiático, que, então e agora, tem sido o epicentro do poder geopolítico. No êxtase da vitória na Guerra Fria, os EUA tentaram algumas manobras estratégicas ousadas que logo se provariam extremamente imprudentes. Acima de tudo, os líderes de Washington acreditavam que poderiam cooptar o crescente poder de Pequim reconhecendo a China como um parceiro comercial em pé de igualdade. Numa tentativa paralela de conter quaisquer ambições imperialistas futuras de Moscou, os EUA também supervisionaram a expansão da OTAN até que a aliança cercasse as fronteiras ocidentais da Rússia, gerando preocupações de segurança em Moscou. Tais iniciativas malfadadas, combinadas com intervenções militares mal planejadas no Afeganistão e também no Iraque, criaram as condições para o ressurgimento de uma rivalidade entre grandes potências que, desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, muitos observadores chamam de “a nova Guerra Fria”.
Após o colapso da União Soviética e de sua economia socialista em 1991, Washington parecia acreditar que a globalização pós-Guerra Fria promoveria a democracia na Rússia e a integraria a uma ordem mundial americana emergente, talvez como uma potência secundária fornecedora de commodities baratas, incluindo petróleo, para a economia global. Para os russos, no entanto, essa globalização produziu a década sombria de 1990, marcada pelo que o economista Jeffrey Sachs chamou de “grave crise econômica e financeira” e pela privatização de empresas estatais “repleta de injustiças e corrupção”, criando um grupo seleto de oligarcas russos predadores.
Quando Vladimir Putin se tornou primeiro-ministro em meio ao mal-estar pós-soviético do final da década de 1990, ele retomou o modelo imperialista secular da Rússia. Ele encontrou sua visão para o renascimento do país como uma “grande potência” no tipo de pensamento geoestratégico que os líderes de Washington pareciam ter esquecido após a grande vitória da Guerra Fria. Após um discurso em 2005 no qual classificou o colapso da União Soviética como a “maior catástrofe geopolítica do século”, Putin começou a recuperar sistematicamente grande parte da antiga esfera soviética — invadindo a Geórgia em 2008, quando o país começou a flertar com a adesão à OTAN; enviando tropas entre 2020 e 2021 para resolver o conflito entre Armênia e Azerbaijão em favor de um regime pró-Moscou em Baku; e despachando milhares de forças especiais russas para o Cazaquistão em 2022 para reprimir manifestantes pró-democracia que desafiavam um aliado leal da Rússia.
Preocupado sobretudo em assegurar sua fronteira ocidental com a Europa, Putin pressionou implacavelmente a Ucrânia após a deposição de seu leal líder interino na "revolução colorida" de Maidan em 2014. Primeiro, anexando a Crimeia, depois armando rebeldes separatistas na região de Donbas, no leste da Ucrânia, adjacente à Rússia, e finalmente invadindo a Ucrânia em 2022 com quase 200.000 soldados, ele desencadeou uma guerra prolongada que ainda não terminou.
Inicialmente, enquanto Kiev resistia aos russos, Washington e o Ocidente reagiram com uma unanimidade impressionante, impondo sanções severas a Moscou, enviando armamentos para a Ucrânia e expandindo a OTAN para incluir toda a Escandinávia. Além disso, a Ucrânia demonstrou uma formidável capacidade para operações não convencionais — expulsando navios russos do Mar Negro com drones navais e sabotando o enorme gasoduto daquele país sob o Mar Báltico.
Enquanto a guerra da Rússia contra a Ucrânia reverberava pela Eurásia e além, as tensões geopolíticas também aumentavam no Pacífico Ocidental , desencadeando uma renovada rivalidade entre grandes potências que se tornou digna da expressão "a nova Guerra Fria ". Em um paralelo impressionante com a década de 1950, em fevereiro de 2022, pouco antes da invasão russa da Ucrânia, Pequim e Moscou forjaram uma aliança econômica e estratégica multifacetada que, segundo eles, " não tinha limites ". Em uma estranha repetição dos primeiros anos da Guerra Fria, Rússia e China estavam, dessa forma, unidas contra uma aliança ocidental, mais uma vez liderada por Washington, com suas forças militares ainda posicionadas na Europa Ocidental e no Leste Asiático.
Após dois anos de combates contínuos na Ucrânia, no entanto, começaram a surgir fissuras na coligação ocidental anti-Rússia. Mais criticamente, o apoio interno dos Estados Unidos à Ucrânia começou a vacilar sob pressões políticas partidárias, amplificadas por uma crescente oposição populista, tanto nos EUA quanto na Europa, à economia globalizada e às suas alianças militares. Depois de conseguir o apoio da OTAN à Ucrânia, o presidente Joseph Biden abriu o arsenal americano para Kiev, até que legisladores republicanos , a pedido de Donald Trump, atrasaram a ajuda militar durante grande parte de 2024.
Segundo mandato do presidente Trump
Após sua segunda posse em janeiro de 2025, a iniciativa inicial de política externa do presidente Trump foi uma tentativa unilateral de negociar o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia — um esforço que seria complicado por sua hostilidade latente em relação à OTAN e sua simpatia pelo presidente russo Putin. Em 12 de fevereiro, Trump iniciou negociações de paz por meio de uma ligação telefônica “longa e altamente produtiva” com o presidente russo, concordando que “nossas respectivas equipes iniciassem as negociações imediatamente”. Dias depois, o Secretário de Defesa (ou devo dizer Secretário da Guerra?) Pete Hegseth anunciou que “retornar a Ucrânia às fronteiras anteriores a 2014 é um objetivo irrealista”, e Trump acrescentou que a adesão de Kiev à OTAN não era menos irrealista — na prática, fazendo o que um diplomata sueco de alto escalão chamou de “concessões muito importantes” a Moscou antes mesmo do início de qualquer negociação.
No final do mês, essas tensões culminaram em uma reunião televisionada no Salão Oval, na qual Trump repreendeu o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, dizendo : “Ou vocês fazem um acordo ou estamos fora, e se estivermos fora, vocês vão lutar. Não acho que será bonito”. Essa abordagem unilateral não só enfraqueceu a capacidade da Ucrânia de se defender, como também prejudicou a OTAN, que, nos três anos anteriores, havia apoiado a resistência ucraniana à Rússia. Recuando com o “ choque inicial ” dessa violação sem precedentes, os europeus rapidamente destinaram US$ 160 bilhões para desenvolver sua própria indústria bélica em colaboração com o Canadá e a Ucrânia, reduzindo assim sua dependência do armamento americano.
Durante o resto do ano, Putin continuou a pressionar Trump. Ele chegou a conseguir uma visita de Estado e um encontro com o presidente americano no Alasca , sem fazer qualquer concessão. Nesse processo, reduziu os enviados americanos a meros porta-vozes de suas exigências inflexíveis, enquanto usava desinformação para semear a discórdia entre Washington e Kiev. Mesmo que o governo Trump não se retire formalmente da OTAN nos próximos anos, a hostilidade reiterada do presidente em relação à aliança, particularmente à sua crucial cláusula de defesa mútua, pode enfraquecer, senão destruir, a aliança.
Em meio a uma torrente de declarações confusas e frequentemente contraditórias sobre política externa vindas da Casa Branca, o desenho da estratégia geopolítica de fato de Trump logo começou a tomar forma. Em vez de se concentrar em alianças de segurança mútua como a OTAN na Europa ou o NORAD com o Canadá, Trump parece preferir um globo dividido em três grandes blocos regionais, cada um liderado por um líder poderoso como ele próprio — com a Rússia dominando sua periferia europeia, a China predominando na Ásia e os Estados Unidos controlando as Américas. Essa aspiração à hegemonia hemisférica conferiu uma certa lógica geopolítica aos ataques, de outra forma quixotescos, de Trump contra a Venezuela (e à captura de seu presidente e sua esposa), bem como às suas investidas para reivindicar a Groenlândia , retomar o Canal do Panamá e até mesmo tornar o Canadá o 51º estado .
Em novembro passado, formalizando essa abordagem, a Casa Branca divulgou sua nova Estratégia de Segurança Nacional , que proclamou um “Corolário Trump à Doutrina Monroe”, visando alcançar uma “preeminência americana incontestável no Hemisfério Ocidental”. Pense, é claro, na Doutrina Donroe . Para esse fim, os EUA reduzirão sua “presença militar global para lidar com ameaças urgentes em nosso Hemisfério”, mobilizarão a Marinha dos EUA para “controlar as rotas marítimas” e usarão “tarifas e acordos comerciais recíprocos como ferramentas poderosas” para tornar o Hemisfério Ocidental “um mercado cada vez mais atraente para o comércio americano”. Em essência, “os Estados Unidos devem ser preeminentes no Hemisfério Ocidental como condição para nossa segurança e prosperidade”.
Por mais de um século, a região do Caribe sofreu consistentemente com os aspectos mais brutais e menos benevolentes da política externa dos EUA, e agora essa realidade só piorou. Trump não apenas retomou a diplomacia das canhoneiras de Teddy Roosevelt e Woodrow Wilson, como o fez com uma crueldade caricatural — afundando barcos no Caribe em nome do combate ao narcotráfico e enviando tropas para invadir a Venezuela, um Estado soberano.
Assim como Theodore Roosevelt usou a Marinha para tomar terras da Colômbia para o Canal do Panamá, Trump enviou Forças Especiais à Venezuela para obter o controle do petróleo do país. "Nossas gigantescas companhias petrolíferas americanas vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera, que está em péssimo estado, e começar a gerar lucro para o país", disse Trump em uma coletiva de imprensa em 3 de janeiro, poucas horas após a prisão do presidente Maduro. "Vamos reconstruir a infraestrutura petrolífera, o que custará bilhões de dólares. Não nos custará nada. Será pago diretamente pelas companhias petrolíferas." Essa afirmação caricata de interesse econômico provavelmente inflamará o ressentimento em uma região onde o sentimento anti-imperialista permanece forte.
Embora tenha poucas chances de sucesso, a tentativa de Trump de implementar uma grande estratégia tricontinental provavelmente deixará um rastro de destruição — alienando aliados na América Latina, enfraquecendo a posição da OTAN na Europa Ocidental e, em última instância, corroendo o poder global de Washington. De uma perspectiva estratégica, uma retirada planejada dos EUA de seu bastião militar na Europa Ocidental acabaria com sua longa influência sobre a Eurásia, que permanece o epicentro do poder geopolítico nesta nova era da Guerra Fria, assim como o foi na antiga. Tal retirada, no exato momento em que a Rússia e a China estão expandindo sua influência sobre esse continente estratégico, seria equivalente a uma derrota autoinfligida nesta era de uma nova e intensificada Guerra Fria.
Para voltar aos quadrinhos do Pato Donald e usar uma analogia apropriada: assim como aquela tentativa frustrada de roubar um ídolo cravejado de joias derrubou o pilar de pedra frágil que sustentava as "Sete Cidades de Cibola", a política externa inepta do governo Trump está potencialmente desestabilizando uma ordem mundial frágil, com consequências perigosamente imprevisíveis para todos nós. E podem ter certeza de uma coisa: ao contrário dos quadrinhos, não terá a menor graça.
Este artigo foi publicado originalmente no TomDispatch.
"A leitura ilumina o espírito".

Comentários
Postar um comentário
12