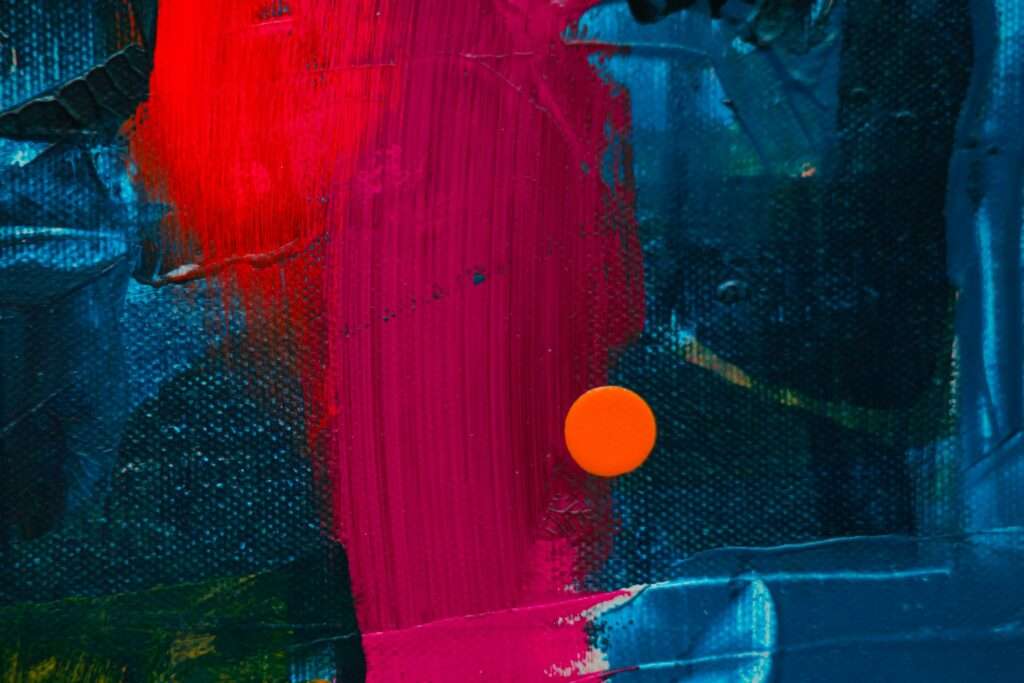
Imagem: Steve Johnson
Por OSWALD DE ANDRADE*
Artigo inédito recolhido no livro recém-lançado “1923: os modernistas brasileiros em Paris”.
A Península Ibérica, que criou Dom Quixote, criou também Os Lusíadas. Qual entre esses dois poemas é o maior do idealismo latino?
O Quixote teve de lutar contra a organização disciplinada dos vilarejos, a barreira das estradas, as reações dos pueblos. Ele embarcou nas caravelas de Vasco da Gama e foi junto com Cabral buscar Dulcinea del Toboso na América do Sul. Uma força latina de coesão, de construção e de cultura o acompanhava. Era o jesuíta.
Destruído o Império Romano, a Igreja Católica herdou seu espírito de organização e de conquista. O último legionário não se limitou, como quer a história, às fronteiras latinas da Romênia. No século XVI, ele foi lançar as bases de suas “Misiones” no Uruguai e fundar, no Brasil, a vila de Piratininga, que produziria a força e a riqueza da São Paulo de hoje.
Na formação inicial do Brasil houve, portanto, três elementos diferentes: o indígena, o português e o padre latino. Pouco depois, veio o negro da África.
Reconhecendo a utilidade da fé no sucesso de seus empreendimentos, o português, sendo o único que poderia resistir ao missionário, deu a ele imediata ascendência nas primeiras assembleias do continente descoberto. O indígena politeísta não teve dificuldade de acrescentar um novo Deus à sua mitologia oral e o negro, disposto a ver manifestações sobrenaturais por toda parte, deixou-se batizar com alegria de criança. Basta pensar nos nomes das montanhas, dos rios e das vilas do Brasil para ver que o calendário romano carecia de santos para apadrinhar a terra sem limites.
Esse fenômeno da dominação intelectual do padre latino no nascimento da sociedade da América do Sul contribuiu mais do que se pensa para preservá-la dos perigos das heterodoxias do futuro.
A escolástica constituiu, portanto, muito naturalmente, o núcleo do pensamento brasileiro. Ela continuou sua longa carreira na Faculdade de Filosofia e Letras de São Paulo, nos seminários e colégios dos estados confederados e, atualmente, está na base da cultura de Alexandre Correa.
Mas, ao seu lado, um movimento nacional encontrou sua expressão superior, no começo deste século, na obra do filósofo Farias Brito.
Dois livros precedem, como documentos, a obra desse mestre. Falo da reportagem pitoresca com a qual João do Rio estreou nas letras brasileiras, As religiões do Rio, e desse romantismo do pensamento católico que é o livro de Severiano de Rezende intitulado Mon flos sanctorum.
A obra de Farias Brito não tem nenhuma relação com esses ensaios curiosos. E se podemos citá-los ao lado do esforço metafísico desse filósofo, é somente para demonstrar a mentalidade especulativa do Brasil em um gráfico que poderia ser continuado, nesses últimos anos, pela obra de Jackson de Figueiredo, Renato Almeida, Castro e Silva, Nestor Victor, Almeida Magalhães, Xavier Marques, Perillo Gomes e Tasso da Silveira.
Farias Brito foi guiado por uma alta cultura. Ele surgiu em um tempo no qual as duas mais célebres correntes de importação que nos dirigiam – a dos germanistas de Tobias Barreto e a dos positivistas de Teixeira Mendes – resultaram em um terceiro movimento que eu sequer considero uma corrente, de tão flagrante que é seu exotismo.
Nas faculdades de direito de São Paulo e do Recife, os professores pregavam o ceticismo pseudocientífico saído das escolas deterministas de direito na Alemanha e na Itália, enquanto Farias Brito, ignorado e modesto, na Faculdade do Pará, exprimia o impulso anônimo da fé panteísta da nossa raça.
A primeira parte da obra de Farias Brito é uma bela crítica das psicologias niilistas da Inglaterra, da França e da Alemanha. Sobre a “base física do espírito”, ele busca estabelecer uma psicologia autêntica, para levar mais longe essas pesquisas, um pouco depois, ao “mundo interior”.
O deísmo assume todas as seduções de uma natureza que não precisa de exegese. Deus é energia presente, onde ideia e realidade se fundem. O mundo é sua atividade intelectual. O mundo é Deus que pensa.
Um exemplo de nossa curiosidade intelectual e crítica pode ser encontrado no recente livro do Teixeira Leite Penido, publicado em francês por Félix Alcan, que expressa bem o lugar do pensamento brasileiro em relação ao intuicionismo de Henry Bergson.
No campo da etnografia, Roquete Pinto ilustra o trabalho da catequese, recentemente renovada pelo general Rondon, de origem indígena, que reaproximou da civilização veloz do Rio, São Paulo e outras capitais, uma vasta região onde tribos esquecidas estavam isoladas.
Um lado da nossa história, o da conquista e do povoamento geográfico pelos exploradores de ouro que partiram de São Paulo para o interior, encontra em Washington Luís um excelente biógrafo. Affonso Taunay também elucida e critica o passado dos exploradores “paulistas”. Além do livro altamente documentado de Fernando Nobre sobre as fronteiras do sul.
O sociólogo Oliveira Vianna, com seus estudos dos costumes, tradições e panoramas psíquicos, estabelece a tese do nosso idealismo, contraposto às realidades da terra.
De fato, quando Dom Quixote atravessou o mar, não se esqueceu do que tinha lido. Tinha amado até à loucura os romances de cavalaria, os sonetos, os nomes belos e preciosos e os feitos ideais.
Assim, a literatura brasileira segue inicialmente uma linha descendente que parte das imitações do classicismo ibérico para se espatifar sob o esforço nacional de Machado de Assis. É nesse ponto que ela começa a ter uma realidade ao mesmo tempo superior e nacional.
É verdade que o sentimento brasileiro se anunciava nas canções coloniais de Basílio da Gama, no instinto indianista do nosso grande poeta Gonçalves Dias e na linguagem pitoresca de José de Alencar. Os romances de Alencar continham até mesmo o esboço de tipos que ainda hoje poderiam servir como base psíquica de nossa literatura. O aventureiro Loredano, Isabel, Robério Dias, o explorador de minas ilusórias são os verdadeiros “padrões” das nossas preocupações criativas. Mas, ao lado dessas realidades, havia o falso e idealizado Guarany, assim como Iracema, que era realmente muito chateaubrianesca.
O português ficou surpreso com a natureza do mundo descoberto e, para expressar seu entusiasmo, usou conhecimentos greco-latinos. José de Alencar não foi um daqueles bons colonos que escreveram nossos primeiros poemas, misturando o astuto Ulisses e a divina Aspásia com cocos e bananas. Mas ele também não soube se livrar do sentimento de importação que aumentava o espetáculo da nova terra. No Brasil, a reação contra a loquacidade sul-americana foi feita pelo sangue negro.
O negro é um elemento realista. Ainda vimos isso ultimamente nas indústrias decorativas de Dacar, na estatuária africana, destacada por Picasso, Derain, André Lhote e outros artistas famosos em Paris, na Antologia, muito completa, de Blaise Cendrars.
De resto, não poderia se maravilhar, ele que veio da África, diante das nossas paisagens. O português, ao chegar, fazia sonetos, o negro batia os primeiros tambores, para exprimir sua alegria e sua tristeza.
Machado de Assis, branco de pele e cheio de honras dadas pelos brancos, atinge seu equilíbrio, por causa de seu sangue negro. Nos seus romances, que ainda são nossas melhores obras de ficção, não há um só desvio inútil da paisagem, nem uma gafe lírica.
No entanto, Machado de Assis, preso às suas funções burocráticas no Rio, não pôde dar toda a dimensão do Brasil.
Então, uma excelente contribuição veio de um homem de ciência. Euclides da Cunha, escritor potente, engenheiro e geólogo, toma parte, como oficial do exército, da repressão a uma revolta mística que convulsionava o estado da Bahia. E fixou em seu livro Os sertões, o cenário, a alma e a vida do povo vindo do aventureiro e do mestiço.
A busca de materiais para uma literatura nacional definitiva foi continuada por Inglês de Souza, que apresentou um quadro muito rico das sociedades amazônicas, por Afrânio Peixoto e pelos naturalistas Aluísio Azevedo e Julia Lopes de Almeida.
Afrânio Peixoto foi o médico que penetrou no interior do país. O caráter perigoso da jovem do “sertão”, esboçado por outros escritores, foi estudado em profundidade por sua observação, que era ao mesmo tempo clínica e divinatória. “Fruta do mato”, criada por ele, é um dos tipos femininos mais interessantes da nossa literatura. Já podemos ver nela o que Alba Regina viria a ser mais tarde no drama da capital americana, produzido pelo lirismo atual de Menotti Del Picchia.
Por outro lado, Graça Aranha foi o primeiro a abordar o problema da nova imigração da Europa. Em Canaã, o romance do cansaço europeu, que vê crescer além o território de todas as liberdades e regenerações, se desenha e se realiza. Aqui, também, a mulher se ergue no caminho do emigrante.
Toda uma série de escritores vinha preparando o romance de hoje. Por outro lado, o sentimento anunciado pelos poetas distantes que tomaram parte na tentativa de independência de Minas estava aos poucos se libertando dos moldes clássicos de Portugal, tão bem defendidos pela cultura lusitana de Gonçalves Dias. Esse sentimento se produzia por toda parte, em cantos negros, em cantos caboclos, para se derramar na ingenuidade inicial dos ritmos pobres de Casemiro de Abreu. Ele é o primeiro cantor da nossa melancolia de raças exiladas em um paraíso mal conquistado. Da sua tristeza nascem os melhores cantos de amor do seu sucessor Olavo Bilac.
Outra corrente se estabeleceu: aquela das cidades emergentes que começavam a refletir os movimentos poéticos europeus. Álvares de Azevedo reproduz Lord Byron; Castro Alves imita Victor Hugo; Alberto de Oliveira, Emílio de Menezes, Raimundo Correa e Francisca Júlia seguem os procedimentos do Parnaso francês. Felix Pacheco acrescenta uma contribuição revolucionária. E depois de Cruz e Souza e Alphonsus de Guimarães, entramos em um período de musicalidade, representado por Olegário Mariano na poesia e Álvaro Moreyra na prosa.
Outros espíritos também buscam uma aproximação da pura verdade nacional, anunciada pelos cantos anônimos dos “sertões”, pela “cantiga” nostálgica do boiadeiro, do tropeiro, do negro e do “caipira”. O regionalismo floresce nas cenas rústicas de Ricardo Gonçalves e Cornélio Pires em São Paulo e, acima de tudo, nos poemas espontâneos e líricos de Catulo da Paixão Cearense (é como se o Cézanne de vocês quisesse se chamar Paulo da Cor Provençal). Ele canta os assassinatos calmos e a lua que encanta as panteras. Ele canta os dilúvios periódicos da Amazônia que destroem florestas e vilarejos. Esse drama das terras caídas e engolidas em seguida, é o fenômeno que ocorre no coração do brasileiro que vê sua amada partir nos braços de outro.
Nosso amor sul-americano tem um sabor totalmente diferente do amor das civilizações antigas, onde os léxicos definitivos têm todos os tipos de prescrições e regimes para casos de infortúnio e onde a tradição reproduz as mesmas soluções seculares. De modo geral, nossos homens veem em toda mulher que passa uma sabina a ser raptada, apesar de todas as consequências, porque nosso amor é feito da memória sexual da mulher branca que os primeiros navegadores deixaram na Europa, no início de suas expedições incertas.
Dada a nossa matéria psicológica e o nosso sentimento étnico, a obra do Brasil contemporâneo consistiu em aliar a essas riquezas adquiridas uma expressão e uma forma que podem levar nossa arte ao seu apogeu.
Vemos, de início, o esforço científico para criar uma língua independente, por sua evolução, da língua portuguesa da Europa.
Fomos beneficiados por todos os erros de sintaxe do romancista José de Alencar e do poeta Castro Alves, e o folclore não tinha alcançado apenas o domínio filosófico.
Dois filólogos cultos estão realizando os desejos anunciados pela graça sertanista de Cornélio Pires e pela potência expressiva de Catulo. Enquanto João Ribeiro tentava estabelecer uma língua nacional em trinta e duas notáveis lições, Amadeu Amaral construía nossa primeira gramática regionalista. No entanto, a obra desses dois ilustres acadêmicos deixou de lado a contribuição da gíria das grandes cidades brasileiras, onde uma surpreendente literatura de novos imigrantes está começando a crescer, especialmente em São Paulo.
O que faltava era a eclosão das realidades presentes, onde fundo e forma, matéria, sentimento e expressão pudessem dar ao Brasil de hoje a medida intelectual de sua mobilização industrial, técnica e agrícola. A estreia do escritor Monteiro Lobato, em São Paulo, finalmente anunciou que o Brasil assumia essa responsabilidade. Lobato teve a chance de sair do domínio puramente documental em que se confinaram Veiga Miranda, Albertino Moreira, Godofredo Rangel e Waldomiro Silveira, e também reagiu contra o urbanismo que deu origem à visão histórica do polígrafo Elísio de Carvalho, à obra de Thomas Lopes e João do Rio e à primeira fase poética de Guilherme de Almeida.
Monteiro Lobato tinha um amplo conhecimento do Brasil, tendo estudado em São Paulo e depois se tornado fazendeiro. A obra de ficção tão almejada por Machado de Assis chegou com sua criação do tipo Jeca Tatu. Ele era o inseto inútil da terra magnífica que, para dar a si mesmo um espetáculo e uma ocupação, queimava as florestas. O senador Ruy Barbosa, líder das honestas aspirações políticas do Brasil, aproveitou o símbolo e o lançou em uma de suas principais campanhas eleitorais. O Jeca Tatu tornou-se o Brasil apático do idealismo saudável.
O símbolo se vingou. A imaginação popular viu nele o Brasil tenaz, pronto para a resistência física e moral, “fatalizado”, mas não fatalista, e ao qual se adaptou, pelas circunstâncias de sua origem e de seu exílio, aquela espécie de vocação para o infortúnio, inconscientemente observada por etnólogos e romancistas. Monteiro Lobato teve de concordar que Jeca Tatu estava queimando as matas nativas para dar ao novo imigrante a chance de estender a “onda verde” dos cafezais. Ele era o precursor da riqueza americana, aberta a qualquer empreendimento das raças viris.
A influência de Monteiro Lobato cresceu. Assim como se fez etnólogo sem querer, também se fez esteta. Essas palavras, que tomo emprestadas de seu volume intitulado A onda verde, no qual ele estuda o plantio de milhares de pés de café pelos “paulistas”, transformando o velho sonho do ouro das minas distantes na realidade do cultivo imediato, são o programa da atual geração literária brasileira: “A epopeia, a tragédia, o drama e a comédia do café serão os grandes temas… sentir e contar a história da onda verde que digere as florestas virgens”.
Começamos a ver, de fato, nas obras poéticas, romances e contos do nosso país, uma verdadeira antologia do café, em suas mais variadas e remotas consequências. Nela se debate sempre o problema da luta das velhas aristocracias contra a invasão imigratória das novas raças.
Monteiro Lobato, no entanto, deu pouca atenção às pesquisas críticas de Suarès, Jules Romains, André Salmon, Élie Faure, Lhote, Cocteau, Gleizes, Henry Prunières e às novas gerações em Portugal, na Itália e na Espanha. Ele não tenta verificar se o nosso indianismo era natural na época de Chateaubriand e se, ainda uma vez, poderia haver agora uma coincidência de estágios entre a nossa literatura e a da Europa. Ele até provoca uma sensação de que faltou algo a cumprir, ainda que tenha trazido à luz aspectos despercebidos da nossa vida americana. Seu lado documental o fascina e produz um retorno ao regionalismo, mal contrabalançado pela imaginação de Deabreu e pela verve de Léo Vaz.
Mário de Andrade publicou então seus primeiros poemas. Com seu conhecimento do país e de sua língua, dos ritmos regulares e das novas pesquisas, criou uma poesia livre e erudita, ainda desconhecida no Brasil, onde, no entanto, já tinham aparecido alguns versos de Manuel Bandeira. Menotti Del Picchia havia escrito o poema da raça Juca Mulato. Seu prestígio era tão grande quanto o de Ronald de Carvalho, que já tinha dois livros coroados pela nossa Academia, um dos quais é uma história da literatura brasileira.
Os dois lutaram ao lado de Mário de Andrade, que foi atacado pelos parnasianos e pelos senhores documentalistas. Guilherme de Almeida, um poeta justamente preferido pelo público, juntou-se ao movimento inovador. E a chegada de Graça Aranha, vindo da Europa, tornou o momento ainda mais interessante. Ele é um dos nossos mais respeitados literatos. Acadêmico, professor de direito, tendo vivido muitos anos nas grandes civilizações, sua influência foi profunda. Ele se juntou imediatamente à geração dos construtores. E em São Paulo, sob o patrocínio de Paulo Prado, sobrinho e herdeiro das qualidades aristocráticas e intelectuais do escritor Eduardo Prado, realizou-se uma Semana de Arte Moderna brasileira.
A tendência levou a conquistas estéticas: os Epigramas irônicos e sentimentais de Ronald de Carvalho, em que a poesia brasileira atingesua mais alta expressão nacional, e O homem e a morte, de MenottiDel Picchia, cuja beleza lembra aquela parte da obra de Claudel quetraz a marca lírica do Brasil.
Assim também, muito naturalmente, outros escritores da nossa geração se relacionam mais com a América psicológica de Valery Larbaud, o Brasil cinematográfico de Jules Romains e as visões exatas de Joseph Conrad e Gómez de La Serna, do que com as simples exaltações da nossa anedota regionalista. É uma questão de resultado.
Pedro Rodrigues de Almeida busca até mesmo criar um classicismo americano na composição de seus contos. Serge Milliet, em suas contínuas estadas na Europa, combina um senso de cultura francesa contemporânea com a poesia livre das vastidões, das minas de ouro e das viagens. E Ribeiro Couto e Affonso Schmidt trouxeram para a calma das cidades brasileiras a sensibilidade particular dos poetas modernos.
A crítica do país, por meio de seus melhores representantes, Tristão de Athayde, Nestor Victor, J.-A. Nogueira e Fabio Luz, foi muito receptiva e incentivou as primeiras obras do movimento que encontrou maior expressão na revista Klaxon. Toda uma geração de jovens se entusiasmou. Entre eles estavam os poetas Luiz Aranha, Tacito de Almeida, Agenor Barbosa, Plínio Salgado, o contista René Thiollier e os ensaístas Rubens de Moraes, Candido Motta Filho, Couto de Barros e Sergio Buarque de Hollanda. Joaquim Inojosa introduziu as novas ideias em Pernambuco, e Carlos Drummond de Andrade e Mario Ruis em Minas.
Ao mesmo tempo, o teatro, voltado com o favor do público para as fontes nacionais pelo trabalho de Cláudio de Souza e Oduvaldo Vianna, encontrou em Graça Aranha uma forte manifestação lírica. Malazarte, um retrato das nossas energias panteístas, foi encenado pelo Théâtre de l’OEuvre, em Paris. E, ao lado dos regionalistas fervorosos que queriam um teatro documental, uma elite acompanhou o trabalho e a pesquisa de Jacques Copeau na França e de Dario Nicodemi que, na Itália, renovou a cena com Pirandello.
As outras artes passam também por uma evolução em relação às realidades do país e suas medidas expressivas.
A escultura teve, na antiga colônia, um precursor. Era um entalhador do estado de Minas conhecido como “O Aleijadinho”, reduzido à deformidade por uma doença.
É de lá e dos primeiros santeiros da Bahia e do Rio, entre os quais os mais famosos são Chagas, o Cabra, e Mestre Valentim, que nosso escultor Victor Brécheret extrai sua arte de hoje.
Victor Brécheret queria primeiro dar a São Paulo, onde nasceu, a expressão de sua história. O movimento de imigrantes desde a época do descobrimento até os dias de hoje, por europeus de todos os climas e origens, inspirou-o a projetar o monumento “às bandeiras”. As “bandeiras” eram as antigas organizações dos habitantes de São Paulo que, partindo da capital em direção ao interior em busca de ouro, indicavam os limites geográficos da pátria e as características étnicas da raça.
Em Paris, o lado tradicionalista da obra atual de Victor Brécheret tem sua origem em uma pequena estátua intitulada Ídolo, na qual direcionou suas linhas e estilo para a estatuária negro- -indígena da colônia.
Na pintura, criada no Rio por Jean-Baptiste Debret, que fazia parte da missão cultural francesa convocada por d. João VI para o Rio, havia toda uma tradição do retrato e de temas históricos. Dois precursores, chamados Leandro e Olympio da Matta, foram continuados apenas pela estranheza nativa de Helios Seelinger.
Leandro que havia pintado, para uma igreja, a família real portuguesa chegando à colônia, com a Santíssima Virgem nas nuvens e o anjo da guarda ao lado, foi obrigado pelos patriotas de 1831 a destruir esse painel que seria talvez a obra-prima da nossa pintura antiga.
Se Jean-Baptiste Debret teve o bom senso de combinar seus temas anedóticos – ele era um discípulo de David – com os elementos da nacionalidade nascente e o senso decorativo indígena, o pintor português Da Silva e os outros mestres da missão francesa conduziram nossa pintura pelas sendas de um velho classicismo antiquado que a tornou, até hoje, uma arte sem personalidade. De fato, como na literatura, a memória das fórmulas clássicas impediu por muito tempo o livre desabrochar de uma verdadeira arte nacional. Sempre a obsessão pela Arcádia, com seus pastores, mitos gregos ou a imitação de paisagens europeias com estradas dóceis e campos bem cuidados, em um país onde a natureza era indomável, a luz vertical e a vida em plena construção.
A revolução contra os museus da Europa, que produziram a decadência da nossa pintura oficial, foi sentida na Semana de Arte Moderna realizada em São Paulo. Protestamos contra os métodos de Pedro Américo e do casal Albuquerque, e também contra a simples documentação nacionalista de Almeida Junior.
Os novos artistas, que haviam sido precedidos por Navarro da Costa, iniciaram a reação, adotando as técnicas modernas que haviam surgido do movimento cubista na Europa. O cubismo também foi um protesto contra a arte imitativa dos museus. E, embora fosse absurdo aplicá-lo ao Brasil, as leis que ele conseguiu destilar dos antigos mestres foram consideradas aceitáveis por muitos jovens pintores do país.
Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Zina Aita, Rego Monteiro, Tarsila do Amaral e Yan de Almeida Prado lançam as bases de uma pintura realmente brasileira e atual.
A reação produzida no Brasil pelas técnicas enérgicas de Anita Malfatti e pela imaginação de Di Cavalcanti foi enriquecida em Paris pela pesquisa de Rego Monteiro, que se dedicou particularmente à estilização dos nossos motivos indígenas, buscando criar, ao lado de uma arte pessoal, a arte decorativa do Brasil, e pela estética de Tarsila do Amaral, que combinou os temas do interior brasileiro com as técnicas mais avançadas da pintura moderna.
A música no Brasil sofreu com essa mesma imitação deslocada da Europa. Carlos Gomes, até certo momento o maior músico brasileiro, ficou menor diante da reação às nossas verdadeiras origens, ajudada pelas liberdades rítmicas adquiridas depois de Debussy. Nossa música não é a canção melódica italiana; ela existe no tambor negro, na vivacidade do ritmo indígena, na nostalgia do “fado” português. Nesse sentido, os compositores Nepomuceno, Alexandre Levy e Francisco Braga anunciam todas as nossas riquezas. Glauco Velasques iniciou a estilização atual, que encontrou em Villa-Lobos seu representante mais forte e ousado.
Villa-Lobos participou da Semana de Arte Moderna em São Paulo e abalou as ideias conservadoras do público. Ele trouxe, com técnicas da atualidade, a melancolia amarga das danças africanas, a abrangência brasileira das sinfonias regionalistas e a doçura das nossas canções populares.
A música contemporânea do Brasil, que encontra em Tupinambá e Nazareth uma constante revitalização das produções documentais, é representada em Paris pela orientação purista e muito moderna de nosso virtuoso João de Souza Lima, pelo discípulo de Villa-Lobos, Fructuoso Vianna, e pela ilustre cantora Vera Janacópulos.
Na música, como na literatura, o século XX foi direcionado para as realidades, rastreia as fontes emotivas, descobre as origens, ao mesmo tempo concretas e metafísicas da arte. A França recebeu um novo sopro de vida com o ar fresco do exterior, trazido por Paul Claudel, Blaise Cendrars, André Gide, Valery Larbaud e Paul Morand. Nunca se sentiu tanto no ambiente de Paris a sugestiva aproximação do tambor negro e do canto indígena. Essas forças étnicas estão no auge da modernidade.
E lá, sob um céu deísta, o Brasil toma consciência do seu futuro. Em um século, talvez, haverá duzentos milhões de habitantes latinos na América. O esforço da geração atual deve ser unir, não a fórmulas vazias, mas ao espírito de suas tradições clássicas, as novas e preciosas contribuições feitas a esse enxerto de latinidade pelos elementos históricos da conquista.
Na França, nosso embaixador diplomático, Souza Dantas, é também nosso embaixador intelectual. Ele preside, com o prestígio de sua inteligência e cultura, uma delegação artística do Brasil contemporâneo que busca servir, mais de perto, à obra comum da latinidade.
*Oswald de Andrade (1890-1954) foi poeta, dramaturgo e escritor. Autor, entre outros livros, de O rei da vela (Companhia das Letras).
Conferência pronunciada na Sorbonne em 11 de maio de 1923, complementada pelo autor nos anos 1950.
Tradução: Roberto Zular.
Gênese Andrade (org.). 1923: os modernistas brasileiros em Paris. São Paulo, Unesp, 2024, 490 págs. [https://amzn.to/3VQYLpv]

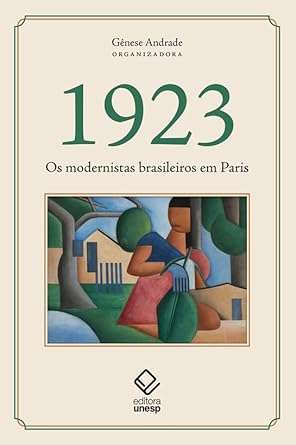

Nenhum comentário:
Postar um comentário
12